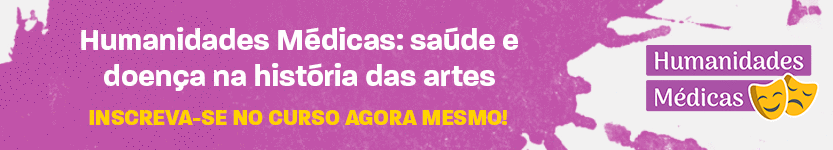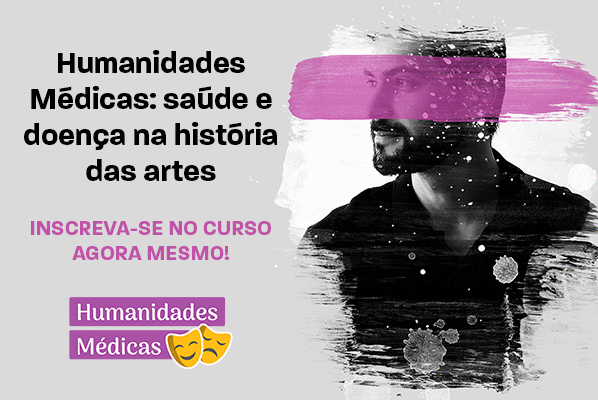Doenças são parte integral da vida. Todos já ficamos doentes, todos ainda ficaremos. Doenças impactam de modo complexo grandes fenômenos sociais e são muitas vezes um fator determinante no crescimento econômico, coleta de impostos, controle demográfico, planejamento urbano, distribuição de renda, entre muitos outros fatores. Doenças, e em especial a tentativa de evitá-las, também impactam todas as esferas da vida cotidiana e influenciam na nossa alimentação, na nossa prática de esportes, no quanto de nosso salário é destinado ao seguro de saúde e até em como organizamos nossos jardins para evitar focos de dengue.
O impacto das doenças em nossas vidas é tão grande que é estranho que elas quase nunca apareçam nos livros de História. Sim, nós falamos da peste durante a Idade Média e discutimos como a rubéola e a varíola devastaram as populações indígenas da América. Mas a coisa pára por aí. A “História Tradicional” com que estamos acostumados na esfera pública tem pouco a dizer sobre doenças, porque até recentemente historiadores com frequência minimizaram ou até mesmo ignoraram sua influência. Não é incomum encontrarmos livros de história em que sucessões dinásticas, alianças militares e guerras têm enorme destaque e em que doenças não aparecem uma vez sequer. No entanto, é fácil perceber que há algo de errado nesse tipo de análise. Ora, se no presente, quando contamos com um sistema de saúde, exames de laboratório e medicamentos testados cientificamente, o impacto das doenças é tão grande, não seria de se esperar que no passado, quando muitos desses instrumentos ainda não existiam ou se encontravam em estágios rudimentares, esse impacto fosse ainda maior?
Essa sensação de que “está faltando alguma coisa” levou alguns historiadores, a partir dos anos 60, a refletir mais seriamente sobre a complexa relação entre História, Medicina e Saúde. Surgiram então os trabalhos de Foucault, História da Loucura na Idade Clássica (1961) e O Nascimento da Clínica (1963); de Crosby, Intercâmbio Colombiano (1972); de McNeill, Plagues and Peoples (1976); entre muitos outros. Contemporaneamente, estudos em linhas de pesquisa similares começaram a aparecer em outros campos do saber, como, por exemplo, o trabalho do economista egípcio Abdel Omran sobre a Transição Epidemiológica, que veio à luz a partir de 1971. Ou ainda, o influente ensaio de crítica cultural de Susan Sontag, A Doença Como Metáfora, publicado em 1978.
Essa nova perspectiva permitiu que certos fenômenos históricos fossem reinterpretados, correlacionando fatos que anteriormente pareciam distantes ou dissimiles. Um exemplo: segundo essa linha de argumentação, o vácuo populacional criado pela morte de 70% a 95% das populações indígenas da América é o grande motivador social e econômico para o desenvolvimento da escravidão transatlântica. Discutiremos muitos outros exemplos futuramente: do grande florescimento econômico gerado pela Peste após 1348 à influência do Cólera epidêmica na geopolítica dos século XIX; do impacto cultural da Tuberculose sobre a estética dos poetas românticos ao papel da Lepra na formação do sistema carcerário. Algumas dessas ligações são inusitadas e, sinceramente, fascinantes.
Para além do impacto histórico, o discurso cultural que criamos em torno das doenças gera desdobramentos que influenciam diretamente nossas vidas e nossa visão de mundo, muitas vezes sem que sequer percebamos. Em A Doença Como Metáfora, Sontag demonstra como os vocábulos empregados para falar sobre o câncer são de origem militar e beligerante: as células cancerígenas “invadem” o corpo, elas são “atacadas” com quimioterapia e “exterminadas”. Assim, a linguagem que usamos para extrair sentido da experiência de “combater um câncer” é repleta de imagens violentas que, quando usadas metaforicamente, criam aquilo que Sontag chama de um “elemento genocida”. Se eu tenho um câncer, farei de tudo para matá-lo antes que ele faça o mesmo comigo. E essa é justamente a lógica empregada por Hitler em Mein Kampf que, ao chamar os judeus metaforicamente de “um câncer social”, necessariamente faz apologia indireta ao extermínio e ao genocídio. Esse exemplo serve para mostrar como algo que pode parecer irrelevante é, na verdade, essencial: a forma como imaginamos, discutimos e construímos socialmente uma doença está diretamente relacionada à nossa visão de mundo como indivíduos e como sociedade.
E é nesse momento que a Arte e especialmente a Literatura passam a ser um ponto-chave. A Arte é um espelho das nossas expectativas culturais e sociais, de nossos medos e ânsias como indivíduos e como sociedade. A Arte é, desse ponto de vista, um reflexo, uma consequência daquilo que pensamos e sentimos. Mas, contemporaneamente, ela é uma formadora de opinião, um instrumento de questionamento, de relativização e de convencimento. Assim, a Arte é, ao mesmo tempo, uma consequência dos nossos desejos e ânsias, bem como uma motivadora desses mesmos desejos e ânsias. Isso cria um movimento eterno de retroalimentação, um “problema do ovo ou da galinha”, que nos permite ponderar:
“Eu me expresso assim porque penso dessa forma, ou eu penso dessa forma porque me expresso assim?”.
Isso pode parecer filosofia barata, mas não só é importante, como é indispensável. Quando descobrimos, por exemplo, que o romance mais vendido na França no século XIX foi O Judeu Errante de Eugène Sue, uma obra em que um judeu imortal viaja pelo mundo e espalha o cólera epidêmico por onde passa, trazendo-o da Índia à Rússia e, posteriormente, à França, percebemos que os vitupérios de Hitler em Mein Kampf são mais do que alucinações de um sociopata; eles fazem parte de uma longa tradição cultural de sobreposição das ideias de “judaísmo” e “pestilência”. O Judeu Errante foi publicado em 1844, noventa e dois anos antes de Mein Kampf (1926), e por sua vez, retoma uma antiga tradição de perseguição aos judeus como envenenadores de poços durante a Idade Média. Dessa maneira, a representação literária do antissemitismo se revela um elo de ligação imprescindível para compreendermos um fenômeno que se origina no passado longínquo, que teve enorme impacto no século XX, e que ainda ressoa no presente.
Há muitas outras instâncias em que a literatura se revela um campo fértil para refletir sobre nossos pressupostos e preconceitos. E o objetivo dessa coluna é justamente explorá-las. Nos textos por vir discutiremos como e porque na literatura somente os aristocratas têm tuberculose e porque somente mulheres têm sífilis. Vamos ver como a história das doenças é importante para a formação de um novo gênero literário no século XIX: a Ficção Científica. Também discutiremos porque Sherlock Holmes é, na realidade, um “detetive-cientista” inspirado em Pasteur e Koch e como ele age como um instrumento da expansão imperial inglesa.
Prepare-se porque você lerá sobre fenômenos que parecem desconexos, mas que estão profundamente relacionados. Vou tentar convencê-lo que as epidemias do século XIX são um pré-requisito para o aparecimento dos Estados Totalitários no século XX; que a formação das favelas do Rio de Janeiro está ligada ao cólera e à febre amarela; que avanços na prevenção da malária foram condição para a criação do Canal do Panamá; ou que Vampiros são, na verdade, uma personificação do medo do contágio.
Em poucas palavras, vamos discutir nessa coluna a História da Medicina, a História das Doenças e a representação de ambas na Arte e na Literatura:
“Qual é a natureza dessa representação? Quais são os pressupostos e preconceitos que a determinam? Quais são as consequências dessas escolhas? E, acima de tudo, como elas impactam a nossa visão de mundo hoje?”.
Amplie seu conhecimento e transforme a sua visão de mundo para humanizar as ciências da saúde
Este curso busca renovar sua visão de mundo, ampliando seu conhecimento artístico e horizontes culturais por meio de um olhar inovador e curioso que combina as ciências do corpo e as ciências da mente. Um curso para profissionais de todas as áreas construírem um novo olhar sobre as ciências da saúde e as ciências humanas por meio da história, literatura e arte.